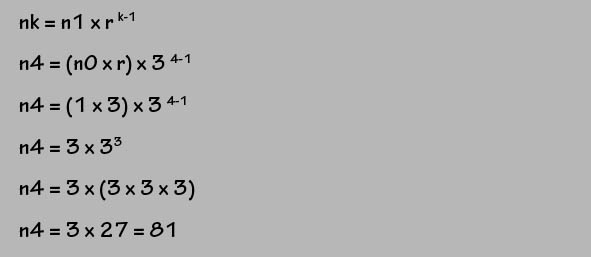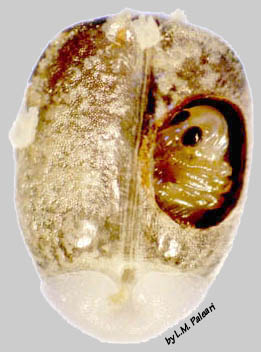Caminhos,
caminhadas e descobertas
A vida era calma, vibrante e cada dia parecia durar além do
tempo que o relógio marcava. De quebra, tempo para também sonhar e festejar.
Idas e vindas a pé ou de bicicleta, permitiam apreciar e conhecer melhor a
paisagem. Paisagem no subdistrito de Barão Geraldo, em Campinas, que em 1980
era dominada por terrenos baldios delimitados por guias e ruas asfaltadas. O
local, denominado de Cidade Universitária, contava, àquela época, com poucas
construções. As casas existentes se concentravam ao longo da Avenida 1, que
dava acesso à entrada principal da Universidade Estadual, a Unicamp.
No início da primavera, em meados de setembro, chegavam as
chuvas. Eram elas que faziam germinar grande número de sementes, deixando os
solos dos terrenos baldios forrados de plântulas, que logo cresciam e
começavam a verdejar o campo, como se pode ver na sequência de imagens a
seguir.
Por volta de novembro-dezembro, então já bastante crescidas,
as plantas exibiam exuberante folhagem, flores e frutos. Das espécies ruderais
comuns naquele local, constituindo um mosaico de formas e cores, como se pode
ver na próxima imagem, destacavam-se: Ambrosia polistachia (Asteraceae), Croton
glandulosus (Euphrbiaceae), Panicum maximum (Poaceae), Solidago microglossa
(Asteraceae), Melinis minutiflora (Poaceae), Sida glasiovii, S. cordifolia
(Malvaceae) e Pyrostegia venusta (Bignoniaceae).
Surpresas e encantamento
Naquele ano, quem tinha por hábito observar o entorno
durante as caminhadas, certamente maravilhava-se com dois fatos inusitados.
De pronto, chamava a atenção, a abundância de
Croton
glandulosus cobrindo os terrenos baldios. Os indivíduos dessa espécie cresciam
adensados cobrindo grandes áreas. Alguns poucos eram encontrados isolados,
geralmente emergindo de gretas existentes nas sarjetas, para onde formigas
pequeninas carregavam as
sementes presas pela carúncula, estrutura esta localizada na extremidade superior, e que
serve de alimento a diversas espécies de formigas dispersoras. Não era raro
encontrar também pés de
Croton glandulosus emergindo de formigueiros
localizados no interior dos terrenos. Os pés plantados dentro dos formigueiros,
ao emergirem, propiciavam às formigas, que moravam ali, obter néctar sem ter
que percorrer longas distâncias; bastava subir pelo delicado tronco e percorrer
os ramos até os nectários florais e extraflorais dessa euforbiácea.
Se a grande quantidade de
C. glandulosus chamava a atenção,
um olhar um pouco mais atento nos maravilhava ainda mais: na copa dessas
plantas, que em geral atingem uns 90 cm, às vezes um pouco mais, insetos
coloridos em abundância nunca vista, muitos dos quais em cópula, ocupavam as
extremidades dos ramos onde surgem as infrutescências. É nos frutos que esses
insetos coloridos inserem o aparelho bucal, para sugar a seiva usada na
alimentação.
Fotografei parte daquilo tudo com a minha
Pentax Mx, uma máquina
fotográfica basicamente analógica, com fotômetro digital, na qual era acoplada
uma lente macro 50 mm. Naquela época, não tínhamos máquinas digitais, com as
quais se tira enormidade de fotos até conseguir uma ideal. Nas máquinas
analógicas, era usado filme em bobina, um pequeno rolo encaixado no corpo da
máquina. Depois das fotos batidas, o filme era rebobinado, retirado da máquina
e levado a um laboratório fotográfico para revelação da película, o que podia
demorar até uma semana. Sobre esse assunto preciso abrir aqui um espaço para
comentar um acontecimento que me foi muito pitoresco. Recentemente, eu trocava
mensagens por e-mail com o Dr. Valmir Antonio Costa, que identificava para mim
um parasitoide de cassidíneos, quando ele tocou nesse assunto e eu soube que
ele também vivera a “Era” dos filmes em rolo, com uma Pentax K 1000. Rimos, mas
é desconcertante, quando nos damos conta do avanço tecnológico ocorrido da
década de 1980 para cá.
Voltando aos insetos coloridos que povoavam o
C.
glandulosus, fiz uma montagem com fotos daquela época, que representa o que no
campo foi observado entre 1980-1983 e que pode ser conferido na representação
seguir. A cada nova mancha de
C. glandulosus da qual eu me aproximava, uma cena
parecida se repetia. Lindo de ver! Inesquecível!
Observe, nessa
montagem, que há um casal de adultos, com pequenas estruturas globosas de cor
branca no dorso (seta 1). Essas pequenas estruturas são ovos de uma mosca
parasitoide, Trichopoda pennipes, cujas larvas penetram no corpo do
hemíptero, seu hospedeiro, para se alimentar e crescer. Porém, ao que tudo
indica, parece que mesmo havendo mais do que um ovo por hemíptero, apenas uma larva
crescerá e poderá chegar à fase adulta. Na representação acima, um hemíptero
vermelho também pode ser visto parasitado por Trichopoda pennipes (seta 2), assim como um indivíduo na fase
jovem, fase de ninfa, carregando dois ovos na região dorsal (seta 3).
Aconteciam,
naquele momento, duas explosões populacionais: a de Croton glandulosus e a do inseto fitófago (fito = planta; fagos =
comer) policromático, um hemíptero, portanto, um inseto pertencente ao grupo
dos percevejos, cujo nome científico é Agonosoma
flavolineatum.
Esse tipo de
percevejo possui uma característica especial: o escutelo bastante desenvolvido,
recobrindo o abdome e dando aos indivíduos desse grupo (Scutelleridae),
a aparência de besouros. No entanto, como se pode conferir na próxima imagem
(A), em que A. flavolineatum suga
seiva em um fruto, o escutelo é uma peça única, não é como o par de asas
rígidas, os élitros (B) dos besouros.
Uma
herança associada ao sexo
Logo no
início dos estudos foi possível constatar que todos aqueles casais podiam dar
origem a descendentes férteis. Portanto, todos aqueles indivíduos pertenciam a
uma mesma espécie, que por ter essa diversidade de cor é considerada
policromática (= indivíduos de diversas cores) ou polimórfica (= indivíduos de
diferentes formas).
Constatei
também que, apesar de certas variações em alguns indivíduos, havia no conjunto
deles, 3 padrões básicos de cor, que retratei na imagem a seguir: listrado - “a”, pintado - “b” e vermelho - “c”. Observando
os casais no campo, foi possível verificar também que apenas as fêmeas exibiam
esses 3 padrões de cor, enquanto os machos eram sempre de padrão listrado
(“a”).
Nessa mesma
imagem acima, observe também os dois tipos de asas desse hemíptero: asa
anterior, hemiélitro (1) e asa posterior, membranosa (2). O par de asas
anterior e o par de asas posterior estão ligados ao tórax e alojados sob o escutelo,
sendo expostos quando o inseto voa.
Perguntas,
perguntas
e... mais perguntas!
Era
praticamente impossível observar no campo aquelas cenas todas com A. flavolineatum,
sem que diversas perguntas viessem à mente.
Por que três
padrões de cor na mesma espécie? Será que cada um oferece algum tipo de
benefício àquele inseto? Teria a ver com diferenças na capacidade de se
camuflar no ambiente e se safar de inimigos naturais? Ou os genes responsáveis
por esses padrões estariam também associados a outras características
fisiológicas que propiciariam certas vantagens quanto à capacidade reprodutiva,
longevidade, resistência a alguma condição climática etc.? Ou, talvez, tudo
isso acontecesse?
Será que na
população esses padrões de cor aparecem na mesma proporção e ao longo de todo o
ano?
E a herança genética
deles, como seria? Indivíduos de um padrão básico de cor, mas com traços de
outro padrão (ex. pintado com faixa unindo as 3 pintas; listrado com traços
vermelhos etc.) também se acasalariam e teriam descendentes férteis, por
exemplo? Indivíduos assim, exibindo traços de mais do que um padrão de cor,
seriam tão vigorosos quanto os demais?
Assim como
era impossível não fazer perguntas sobre aquele fenômeno, era tentador buscar
pelas respostas. Um desafio que resolvi encarar.
Arregaçando
as mangas e...:
Ao
trabalho!
Para começar
procurei saber quem era aquele inseto e o que já se conhecia sobre ele, ao
mesmo tempo em que resolvi aproveitar aquela situação de campo, para fazer um
levantamento da população e saber como ela e os diferentes padrões flutuavam ao
longo do ano, quem eram seus inimigos naturais etc.
Na década de
1980, não se dispunha de computadores e internet como acontece hoje, por isso,
todo o trabalho de levantamento bibliográfico era realizado em bibliotecas, apenas
com material impresso, e levava bem mais tempo. Se na biblioteca ao seu alcance
não houvesse o artigo desejado ou o livro, era preciso solicitar uma fotocópia ou
um empréstimo e esperar pela entrega dos correios, ou pelos meios internos das
universidades. E isso poderia levar, dependendo do caso, semanas.
Consulta a
coleções de insetos em museus era outra atividade demorada, que dependia de
viagens para visitas a diferentes instituições (nacionais e internacionais) ou de
solicitações de empréstimos dos espécimes depositados, que eram remetidos
também pelos correios. E isso também poderia levar semanas.
Engana-se
quem pensa que esse tempo de espera era uma perda de tempo. Diferente do que
acontece atualmente, em que a maioria das pessoas age de maneira irrefletida,
porque as buscas e respostas pela internet são imediatas, antigamente o tempo
de preparo para as buscas e de espera por resultados era tempo de pensar com
vagar, lapidar ideias, aprimorar projetos e tornar os trabalhos mais bem
acabados e consistentes. Em Ciência, tempo e pensar foram e continuam sendo
fundamentais.
Logo no
início da pesquisa, verifiquei que havia certa confusão quanto à identificação
daquele hemíptero, porque cada padrão estava registrado com um nome diferente. Além
disso, havia imagens de exemplares com os mesmos 3 padrões de cor, mas com
certas diferenças que sugeriam tratar-se de outra espécie. Problemas assim eram
relativamente comuns, porque os exemplares eram coletados sem dados da biologia
e ecologia e descritos com base apenas em caracteres morfológicos. Seria
preciso, portanto, para esclarecer a questão, fazer uma revisão do gênero Agonosoma, cujas espécies distribuem-se
pela América Central e América do Sul.
Dentre os
diversos registros que consultei, um deles deixou-me especialmente maravilhada:
Uma obra rara do século XIX, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, com
ilustrações belíssimas. Ilustrações essas que nada têm a ver com as fotografias
atuais tiradas, muitas vezes, sem o menor cuidado, sem qualquer critério. Eram
desenhos coloridos e tão perfeitos, que para mim estão muito além de um
registro fotográfico, não apenas pela beleza, mas pela precisão e qualidade das
cores e evidência dos detalhes morfológicos. Não sei quem foi o ilustrador, mas
certamente era um grande artista. Fiquei muito, muito impressionada.
Embora eu
não fosse sistemata e nunca fizera um trabalho de revisão, estudei o que havia,
reuni as observações e registros normalmente usados e organizei todos eles. Fiz
desenhos, em nanquim sobre papel vegetal, das estruturas das diversas partes do
corpo de machos e fêmeas da espécie. Depois esses desenhos foram fotografados
com uma máquina semelhante àquela que eu usara para fotografar o inseto e as
plantas no campo.
Por
meio de uma técnica de esmagamento de células das gônadas masculina e feminina
sobre lâmina para microscopia, liberei os cromossomos, que puderam ser observados,
fotografados ao microscópio óptico e usados para compor a caracterização de A. flavolineatum. Na imagem a seguir, pode-se
observar os cromossomos de células sexuais de testículo (A-B) e de ovário (C)
em meiose.

Os
cromossomos sexuais são os menores e diferentes entre si (heteromórficos) nos
machos e semelhantes entre si nas fêmeas, que são, respectivamente os sexos heterogamético e homogamético. As células que formam o corpo de A. flavolineatum, portanto as células
somáticas, possuem 10 XY cromossomos nos machos e 10 XX cromossomos nas fêmeas,
e se caracterizam por não possuir centrômeros localizados.
Alguns
exemplares de Agonosoma spp., para as
respectivas descrições e comparações gerais, eu recebi por empréstimo, outros
observei em suas coleções de origem e 3 exemplares do Hunterian Museum de Londres
foram observados em diapositivos. Colaboraram comigo permitindo-me analisar
exemplares de espécies de Agonosoma: Dr.
J. Eger, na Down AgroSciences
(Florida), o Britsh Museum de Londres, a Universidade Estadual de Pernambuco, o
Museu do Parque Nacional do Itatiaia, o Museu de
História Natural da Unicamp, o Museu de Zoologia da USP e o Museu Nacional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Depois desses
passos iniciais, solicitei ajuda à Dra. Jocélia Grazia, sistemata e taxonomista
especialista em Pentatomidae. Gentilmente, ela leu o esboço do que eu
pretendia, deu algumas dicas importantes e me disse que eu estava no caminho
correto. Fiquei muito contente e segui em frente.
Na imagem a
seguir, encontram-se as espécies do gênero Agonosoma que foram observadas: A. flavolineatum (A a I) — ♂ listados no dorso e com ventre quase
sempre alaranjado; ♀ com dorso listado e ventre quase sempre esbranquiçado, ♀ pintada com ventre negro, ♀ vermelha com ventre negro —; A. Trilineatum (J-K) — ♂ listrado (J) com cores do dorso
semelhantes as de A. flavolineatum,
apresentado na imagem anterior “a” e ventre negro, ♀ listada como o macho (J), ♀ pintada com cores do dorso
semelhantes as de A. flavolineatum, porém
apresentado 2 manchas no tórax e 4 sobre o escutelo e ventre negro; A.
bicolor (L) — ♂ desconhecido, ♀ vermelha com ventre preto. A espécie
A. dohrni, descrita em literatura,
não foi localizada.

Como
se diz popularmente:
Uma
trabalheira!!!!!
Enquanto a
revisão do gênero acontecia, os levantamentos de campo também eram levados em
frente. Neles eu fazia a contagem e registro dos ovos e das ninfas, que eram
também identificadas quanto ao estádio em que estavam, e se havia sinais de parasitismo
e predação em ambas as fases. Os adultos
eram marcados com um pequeno número feito no escutelo com tinta nanquim, como indica
a seta das imagens a seguir, o que permitiria saber se ele estivera na área em
levantamento anterior. Além disso, eu registrava a presença de ovos do
parasitoide T. pennipes e se o adulto era jovem, recém transformado.

Esse
trabalho tem de ser muito cuidadoso, porque nem sempre os indivíduos estão evidentes,
mas, sim, bem escondidinhos, como se pode ver na próxima imagem de uma fêmea
vermelha de A. flavolineatum.
Ovos, que
são comumente colocados na face inferior das folhas, e as ninfas pequenas
também exigem atenção redobrada para serem encontrados nos levantamentos de
campo. Um trabalhão, como dá para perceber, ou um trabalho hercúleo, como se diria
com mais elegância.
Para mim, na
realidade, isso tudo era apenas trabalhoso. O prazer de realizar e de descobrir
coisas interessantes era muito maior do que o esforço físico. Essa situação era
muito diferente do desgaste que a preocupação constante, com as possíveis e
imprevisíveis capinas na vegetação, gerava. Mesmo depois de pedidos oficiais ao
subprefeito do distrito, para que a área onde eu realizava a pesquisa fosse
preservada até o final dos levantamentos, era preciso ficar sempre muito
atenta, porque funcionários não orientados chegaram a destruir a referida vegetação
por dois anos consecutivos. Na prática, por se tratar de vegetação anual, isso
significa atraso de dois anos e o risco dos insetos desaparecerem, assim como
surgiram nessa explosão populacional inexplicável. Naquela época não tínhamos
um prazo para finalizar o mestrado, como hoje em dia acontece, mas, mesmo
assim, tivemos um coordenador que ignorando esse fato e também as
especificidades de cada estudo dos demais pós-graduandos, enviou cartinhas com
prazos para a apresentação das dissertações, o que gerou pânico não só em mim como nos outros mestrandos. Esses prazos arbitrários acabaram por não se
confirmar, mas geraram um grande estresse em todos nós. Estresse totalmente desnecessário.
Mas,
voltando aos trabalhos realizados, os resultados dos censos também serviriam
para que se pudesse entender de que maneira não apenas a população flutuava ao
longo do ano, mas também cada padrão de cor. Essas possíveis variações poderiam
ajudar a responder parte das perguntas. No entanto, era preciso também, saber o
tempo médio de vida dessa espécie; quanto tempo uma ninfa demorava desde a
eclosão até a fase adulta; a quantidade média de ovos colocados pelas fêmeas ao
longo da vida; qual a proporção de machos e de fêmeas, inclusive de cada padrão
nas proles etc. Para conseguir tais dados, seria preciso obter e acompanhar
diversas desovas, registrando as datas em que cada uma foi depositada e que
cada ninfa eclodiu e depois se transformou em adulto. Registrar as datas de
morte de cada indivíduo e os ovos que não eclodiram.
Por isso, em
laboratório, adultos foram criados em viveiros para que se conhecesse a
biologia do desenvolvimento dessa espécie. É possível repetir a expressão
anterior: um trabalho hercúleo! Centenas de indivíduos observados um a um em
seu viveiro particular, com os respectivos registros diários: eclosão, mudanças de cada fase de vida, número de
ovos depositados por fêmea de cada casal, padrões de cor surgidos etc.
Verifiquei
que as fêmeas depositam ovos agrupados em arranjo
peculiar, próprio dessa espécie. Às vezes, um ou outro ovo ficava em desalinho,
mas, mesmo assim, o padrão geral é seguido. Cada desova possui quase sempre 14
ovos, de coloração esbranquiçada que, com o desenvolvimento do embrião, ganha
traços vermelhos correspondentes a certas partes do corpo, como se pode ver na próxima
imagem.
Como o tempo de desenvolvimento de cada indivíduo nas fases
de ovo, ninfa e adulto geralmente varia um pouco de um para os demais, seria
impossível dizer, por exemplo, qual o tempo de incubação dos ovos ou a
longevidade dos adultos de
Agonosoma flavolineatum ou de qualquer outra
espécie. Seria como dizer que os adolescentes brasileiros de 14 anos têm 1 m 65
cm, por exemplo, quando sabemos que cada adolescente nessa faixa de idade pode
ter uma altura maior ou menor do que 1 m 65 cm.
Por causa disso, só poderemos atribuir um valor de tempo de
desenvolvimento, seja de ovo ninfa ou adulto, como representativo de uma dada
espécie, se calcularmos o valor médio de cada fase. Isso significa somar tempo
de desenvolvimento de cada indivíduo de uma dada fase (ovo, ninfa, adulto),
dividir pelo total de valores de indivíduos que foram considerados nesse
somatório. Além disso, por sabermos que nem todos os indivíduos se
desenvolveram naquele exato tempo, para sabermos quanto o tempo de
desenvolvimento de um indivíduo pode estar distante daquela média, calcula-se
também o desvio padrão da média dentro de determinado grau de confiança (99% ou
95%, por exemplo).
Dessa forma, sabemos hoje que naquelas condições em que
foram conduzidos os estudos, as desovas possuíam um tempo de incubação — tempo
desde a oviposição ao nascimento das ninfas —, de aproximadamente 7 dias,
nascendo machos e fêmeas na mesma proporção. A fase de ninfa durou em torno de
41 dias, a de adulto macho 78 dias e de adultos fêmeas 200 dias.
Descobertas deveras interessantes
Com essas duas frentes de trabalho, uma no campo e a outra
no laboratório, foi possível compreender, pelo menos em parte, a importância de
diferentes padrões de cor. Os resultados sugeriram que genes responsáveis pelos
padrões pintado e vermelho deviam estar relacionados também a outras
características, que confeririam maior resistência a certas condições
climáticas, garantindo maior longevidade às fêmeas. Um comportamento mais comum
em fêmeas desses dois padrões é o de diapausa sequiosa. Isso significa que
esses adultos param de se alimentar e reproduzir durante o período mais seco do
ano, quando se abrigam sob a folhagem seca, em cantos de paredes e em gretas.
A diapausa é proporcionalmente mais longa em indivíduos
pintados e vermelhos, do que em listados. Esse comportamento foi detectado
tanto no campo como no laboratório durante o período seco do ano, que na região
em que estavam (22° 50’ S) acontece durante o inverno. No laboratório houve
duas fêmeas (pintada e vermelha) e um macho, que chegaram a ficar entre 8 e 11
meses em diapausa. Com mais fêmeas do que machos permanecendo em diapausa por
mais tempo, a longevidade média delas acabou sendo maior do que a dos machos.
Esse fenômeno, somado a registros de campo bastante
detalhados, como dos adultos, com características de não jovens, marcados após
o tempo seco (inverno) e de adultos com características de jovens, após o
desenvolvimento da primeira leva de ovos e ninfas transformadas, permitiu
explicar o tipo de flutuação dos padrões ao longo do ano. Descobri que
agrupando os adultos por geração (I - parental após o inverno; II primeira
geração de filhos ou F1; III – somatório da geração F1 e de uma nova geração
F2) detectava-se a existência de um padrão de flutuação, que se repetiu nos
dois anos de levantamento:
Geração I ♀ pintadas (~ 50%), ♀ vermelha (~35%) e ♀ listrada (~15%)
Geração II ♀ listrada (~ 42%), ♀ pintadas (~ 28%) e ♀ vermelha (~30%)
Geração II ♀ listrada (~ 31%), ♀ pintadas (~ 36%) e ♀ vermelha (~31%)
Com isso,
constata-se que fêmeas pintadas — que podem surgir em proles de fêmeas dos 3
padrões e só perdem em número médio de ovos para as fêmeas listradas —, assim
como as fêmeas vermelhas — que não surgiram em prole de fêmeas pintadas são as que menor quantidade de ovos colocam —
são, ambas, as mais resistentes ao período seco dos anos (inverno). Em
compensação, as fêmeas listadas, que resistem menos ao período seco, suplantam
as duas anteriores na geração II — são as que colocam maior número médio de
ovos e, em geral, surgem em maior número nas proles dos três tipos de fêmeas.
Apesar dessas marcantes alterações nas porcentagens de fêmeas pintadas e
listadas, da geração I para a geração II, com fêmeas vermelhas mantendo
aproximadamente a mesma porcentagem nos três momentos do ano (geração I, II e
III), a proporção geral entre os 3 fenótipos permaneceu
equilibrada.
Quem gostou
muito desse achado foi o Dr. Aquiles Piedrabuena (já falecido), que ressaltou o
valor da boa estatística descritiva para explicação de certos fenômenos. De
qualquer forma, será preciso um estudo genético mais aprofundado, para saber
quem são os genes responsáveis por essas características, como eles são
herdados e por quais outras características eles também são responsáveis, de
forma a favorecer cada padrão de maneira distinta e permitir o balanço deles três
na população.
Durante
essas investigações nas áreas ruderais da Cidade Universitária de Campinas, fui
descobrindo a riqueza de interações que insetos estabelecem com C. glandulosus e com outras espécies de
insetos. Deparei-me com muitas coisas interessantes, algumas das quais já
reveladas neste blog — aqui; aqui e aqui— e que futuramente, terão novas facetas
apresentadas.
E para
encerrar este post, apresentarei uma pequena lagarta de borboleta, cujo
comportamento me deixou perplexa. Ela estava tão bem camuflada, no ápice do
ramo de Croton glandulosus, que
custei a acreditar que estivesse ali. Note ao lado esquerdo da próxima figura,
que o corpo da lagarta (a) ainda está bastante coberto por pequenas folhas
fechadas e por botões florais. Para me certificar de que se tratava mesmo de
uma larva, retirei algumas das estruturas que a recobria. Em seguida, retirei
mais botões e folhas (imagem do lado direito), de forma que foi possível ver a
cor marrom claro com traços brancos do corpo da pequena lagarta (b) e as suas
pernas (c). Ela se fazia passar por uma inflorescência. Imagine... fazer-se
passar por uma inflorescência, enquanto cresce e se transforma em uma pequena
borboleta. Eu gostaria muito de ter presenciado
o trabalho dessa lagarta, de coletar e fixar sobre o próprio corpo, os botões
florais e pequenas folhas que retira de C.
glandulosus. Mas, infelizmente, essa foi a única ocasião em que me deparei
com essa espécie de lagarta, que deu origem a uma pequena borboleta da família
Lycaenidae. Que comportamento sofisticado ela tem. Sofisticadíssimo!

Agradecimentos: À Dra. Jocélia Grazia e ao Dr. Aquiles Piedrabuena (in memoriam), por terem me recebido tão bem e me
dado boas orientações naquele início da pós-graduação.
Referências
Bibliográficas
(para quem tiver interesse por mais
detalhes)
PALEARI, L.M. 1992. Revisão do gênero Agonosoma Laporte, 1832
(Hemiptera, Scutelleridae). Revista Brasileira
de Entomologia 36:505-520.
PALEARI, L. M. 1994. Variação sazonal de freqüência e abordagem
genética dos padrões de cor de Agonosoma flavolineatum Laporte, 1832
(Hemiptera, Scutelleridae). Revista
Brasileira de Entomologia,
38: 47-56
PALEARI, LM (1992) Biologia de Agonosoma flavolineata Laporte, 1832 (Hemiptera, Scutelleridae). Revista
Brasileira de Entomologia, 36 : 521-526.
Lucia Maria Paleari
lmpaleari@gmail.com